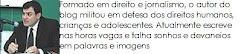Discurso proferido por Luiz Claudio Cunha, na cerimonia de diplomação de Notório Saber em Jornalismo, na Universidade de Brasilia, no dia 9 de maio, e divulgado pelo site CONVERSA AFIADA, do jornalista Paulo Henrique Amorim.
O jornalismo é a atividade humana que depende essencialmente da pergunta, não da resposta. O bom jornalismo se faz e se constrói com boas perguntas. O jornalismo de excelência se faz com excelentes perguntas.
Eu era uma criança de 12 anos quando irrompeu o golpe de março de 1964. Mas, como as crianças da escola de Realengo, já tinha a idade suficiente para reconhecer a violência, para sofrer o trauma, para sentir o medo. Os efeitos do longo pesadelo de 21 anos se projetaram no calendário. Meu primeiro voto para presidente da República só aconteceu quando tinha 38 anos. Cassaram nossa cidadania, limitaram nossa liberdade, calaram nossos amigos, exilaram nossos líderes, machucaram nosso povo.
Atacaram com violência maior o que mais assusta os tiranos: a universidade, o santuário do conhecimento, a trincheira do livre-pensamento, a sede da consciência crítica. Profanaram o espaço desta universidade, a Universidade de Brasília, a academia que estava no coração da nova ordem sem coração, o regime que combatia a força das ideias pela ideia da força armada, desalmada, desatinada.
Um regime que expurgou da UnB seus dois primeiros reitores, nomes primeiros da educação e do compromisso ético com a escola e com a liberdade do pensamento: Darcy Ribeiro, criador e fundador da UnB, e Anísio Teixeira, lançador do movimento da ‘Escola Nova’ – uma escola que enfatizava o desenvolvimento do intelecto e a capacidade de julgamento. Juntos, Darcy e Anísio assentaram os pilares desta universidade. Anísio inventou na Liberdade, o bairro mais populoso e pobre de Salvador nos anos 1940, a ‘Escola Parque’, que tinha padaria, um jornal diário e uma rádio comunitária por alto-falante, com médico e dentista e turno integral para as crianças. O modelo revolucionário inspirou Darcy a criar os CIEPs anos depois, no Rio de Janeiro. Anísio também ajudou a fundar a SBPC e a CAPES e dirigiu o INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, onde defendia o fim do ensino religioso obrigatório nas escolas.
A nova ordem que trazia a desordem institucional afastou ambos, Darcy e Anísio, da UnB, de Brasília, das escolas, dos jovens, do país. Em 12 de março de 1971, auge da violência do mandato do notório general Médici, Anísio desapareceu no Rio, depois de visitar o amigo Aurélio Buarque de Holanda. Os militares disseram que ele estava detido, mas não informaram o seu paradeiro. Dois dias depois, seu corpo foi encontrado, sem sinais de queda nem hematomas, no fundo do poço do elevador do prédio de Aurélio, na praia de Botafogo. Causa da morte: ‘acidente’.
Aqueles eram tempos estranhos, muito estranhos, quando nem os acidentes deixavam rastro.
Pensadores e mestres como Darcy e Anísio resumem bem a história do país e da UnB. E nenhum estudante simboliza melhor esta universidade do que o primeiro lugar em Geologia do ano de 1965, um jovem goiano de 18 anos chamado Honestino Guimarães. É um dos 144 desaparecidos políticos do país. Presidente da Federação dos Estudantes Universitários de Brasília, foi preso pelo Exército e expulso da universidade por reagir à invasão do campus da UnB em 1968. Caiu na clandestinidade com o AI-5, chegou à presidência nacional da UNE e foi preso em outubro de 1973.
A jornalista brasiliense Taís Morais fez as perguntas certas e, no seu livro Sem Vestígios (Prêmio Jabuti de 2006), descobriu o macabro trajeto final de Honestino, percorrendo todo o alfabeto de siglas letais da repressão brasileira: detido no Rio de Janeiro pelo CENIMAR (Centro de Informações da Marinha), trazido a Brasília pelo CIE (Centro de Informações do Exército), torturado durante cinco meses no PIC (Pelotão de Investigações Criminais, no subsolo do prédio do Comando do Exército, na Esplanada dos Ministérios) e levado em fevereiro de 1974 a Marabá num jatinho fretado da Líder Táxi Aéreo por quatro agentes do CIE liderados por um certo major-aviador Jonas, do CISA (Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica).
Lá, no sul do Pará, Honestino foi executado e enterrado na selva pelas tropas que combatiam a guerrilha do Araguaia. Honestino desapareceu aos 26 anos, mas o hoje coronel-aviador da reserva (R-1), com nome, sobrenome e endereço conhecido, circula sem chamar a atenção por Brasília, sem que nenhum jornalista se aproxime dele para fazer uma simples e básica pergunta: − Coronel Jonas, o que aconteceu com Honestino?
A prepotência não permitia perguntas para números sem resposta: 500 mil cidadãos investigados pelos órgãos de segurança; 200 mil detidos por suspeita de subversão; 50 mil presos só entre março e agosto de 1964; 11 mil acusados nos inquéritos das Auditorias Militares, 5 mil deles condenados, 1.792 dos quais por ‘crimes políticos’ catalogados na Lei de Segurança Nacional; 10 mil torturados apenas na sede paulista do DOI-CODI; 6 mil apelações ao Superior Tribunal Militar (STM), que manteve as condenações em 2 mil casos; 10 mil brasileiros exilados ; 4.862 mandatos cassados, com suspensão dos direitos políticos, de presidentes a governadores, de senadores a deputados federais e estaduais, de prefeitos a vereadores; 1.148 funcionários públicos aposentados ou demitidos; 1.312 militares reformados; 1.202 sindicatos sob intervenção; 245 estudantes expulsos das universidades pelo Decreto 477 que proíbe associação e manifestação; 128 brasileiros e 2 estrangeiros banidos; 4 condenados à morte (sentenças depois comutadas para prisão perpétua); 707 processos políticos instaurados na Justiça Militar; 49 juízes expurgados; 3 ministros do Supremo afastados, o Congresso Nacional fechado por três vezes; 7 Assembleias estaduais postas em recesso; censura prévia à imprensa e às artes; 400 mortos pela repressão; 144 deles desaparecidos até hoje.
No início de 1962 oficiais das Forças Armadas foram a São Paulo para um encontro com o jornalista Júlio de Mesquita Filho, a quem entregaram um documento sobre as normas que iriam comandar o governo militar após a queda de Jango. O grupo, integrado pelos generais Cordeiro de Farias e Orlando Geisel, foi mais explícito com o dono de O Estado de S.Paulo: o novo regime queria ficar no poder por pelo menos cinco anos, o que viria a ser a primeira mentira do golpe. O regime militar perdurou quatro vezes mais.
Animado com a conversa, Mesquita chegou ao ponto de sugerir oito nomes para o futuro ministério golpista. O jornalista, acreditem, chegou a fazer o rascunho de um Ato Institucional para fechar Senado, Câmara e Assembleias e para cassar mandatos. Ironia da história: o instrumento de força esboçado por Júlio Mesquita era o mesmo a que a ditadura submeteria seu jornal em 1968 com o AI-5. Os ex-amigos do golpe confabulado pelo dono do Estadão forçariam o jornal a cobrir os espaços censurados nas páginas com versos de Camões e receitas de bolo.
Precisamos lembrar, devemos contar.
Guerrilha não se confunde com terrorismo, definido sim pelo deliberado objetivo de infundir terror entre a população civil, sob o risco assumido de vítimas inocentes – como no caso do terror consumado do 11 de Setembro em Nova York, como no caso do terror frustrado da bomba do Riocentro no Rio de Janeiro. É por isso que ninguém, nem mesmo um cínico, se atreve a escrever “terroristas de Sierra Maestra” ou “terroristas do Araguaia”.
Eram guerrilheiros, não terroristas. Terrorista era o Estado, que usou da força e abusou da violência para alcançar e machucar dissidentes presos, indefesos, algemados, pendurados, desprotegidos diante de um aparato impiedoso que agia à margem da lei, na clandestinidade, nos porões, torturando e matando sob o remorso de um codinome, encoberto na treva de um capuz. Terroristas eram os assassinos de Honestino Guimarães, Vladimir Herzog, David Capistrano da Costa, Manoel Raimundo Soares, Stuart Angel Jones, Manoel Fiel Filho, Paulo Wright, Zuzu Angel, entre tantos outros.
“A sociedade foi Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram”, ensinou Ulysses Guimarães, no dia da promulgação da Constituição de 1988. “Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o estatuto do homem, da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra: temos ódio à ditadura. Ódio e nojo”, reforçou Ulysses.
A hipocrisia nacional diz que a mera lembrança desses nomes e fatos não passa de revanchismo, de mera volta ao passado.
Uma médica chilena, torturada em 1975 e eleita presidente em 2006, desmente isso: “Só as feridas lavadas cicatrizam”, ensina Michelle Bachelet.
O Supremo Tribunal Federal teve, no ano passado, a chance de lavar esta ferida. E, vergonhosamente, abdicou desse dever.
Apenas dois dos nove ministros do STF – Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Brito – concordaram com a ação da OAB, que contestava a anistia aos agentes da repressão. “Um torturador não comete crime político”, justificou Ayres Brito. “Um torturador é um monstro. Um torturador é aquele que experimenta o mais intenso dos prazeres diante do mais intenso sofrimento alheio perpetrado por ele. Não se pode ter condescendência com o torturador. A humanidade tem o dever de odiar seus ofensores porque o perdão coletivo é falta de memória e de vergonha”.
Apesar da veemência de Ayres Brito, o relator da ação contra a anistia, ministro Eros Grau, ele mesmo um ex-comunista preso e torturado no DOI-CODI paulista, manteve sua posição contrária: “A ação proposta pela OAB fere acordo histórico que permeou a luta por uma anistia ampla, geral e irrestrita”, disse Eros Grau, certamente esquecido ou desinformado, algo imperdoável para quem é juiz da mais alta Corte e também sobrevivente da tortura. A anistia de 1979 não é produto de um consenso nacional. É uma lei gestada pelo regime militar vigente, blindada para proteger seus acólitos e desenhada de cima para baixo para ser aprovada, sem contestações ou ameaças, pela confortável maioria parlamentar que o governo do general Figueiredo tinha no Congresso: 221 votos da ARENA, a legenda da ditadura, contra 186 do MDB, o partido da oposição.
Nada podia dar errado, muito menos a anistia controlada.
Amplo e irrestrito, como devia saber o ministro Grau, era o perdão indulgente que o regime autoconcedeu aos agentes dos seus órgãos de segurança. Durante semanas, o núcleo duro do Planalto de Figueiredo lapidou as 18 palavras do parágrafo 1° do Art. 1° da lei que abençoava todos os que cometeram “crimes políticos ou conexos com estes” e que não foram condenados. Assim, espertamente, decidiu-se que abusos de repressão eram “conexos” e, se um carcereiro do DOI-CODI fosse acusado de torturar um preso, ele poderia replicar que cometera um ato conexo a um crime político. Assim, numa única e cínica penada, anistiava-se o torturado e o torturador.
Em 22 de agosto de 1979, após nove horas de tenso debate, o Governo aprovou sua anistia, a 48ª da história brasileira. Com a pressão da ditadura, aprovou-se uma lei que não era ampla (não beneficiava os chamados ‘terroristas’ presos), nem geral (fazia distinção entre os crimes perdoados) e nem irrestrita (não devolvia aos punidos os cargos e patentes perdidos).
Mesmo assim, o regime suou frio: ganhou na Câmara dos Deputados por apenas 206 votos contra 201, graças à deserção de 15 arenistas que se juntaram à oposição para tentar uma anistia mais ampliada. Um dos mentores do ‘crime conexo’ era o chefe do Serviço Nacional de Informações, o SNI, general Octávio Aguiar de Medeiros, signatário da anistia de agosto de 1979.
Menos de dois anos depois, em abril de 1981, um Puma explodiu antes da hora no Riocentro, no Rio de Janeiro. Tinha a bordo dois agentes terroristas do Exército: o sargento Guilherme do Rosário, que morreu com a bomba no colo, e o capitão do DOI-CODI Wilson Machado, que sobreviveu impune e, apesar das feias cicatrizes no peito, virou professor do Colégio Militar em Brasília.
Em 24 de abril passado, em trabalho admirável, os repórteres Chico Otávio e Alessandra Duarte, de O Globo, revelaram ao país a agenda pessoal do sargento morto, a agenda que o Exército considerou desimportante para seu arremedo de investigação. Pois lá estão anotados os nomes reais (sem codinome) e os telefones de 107 pessoas, de oficiais graduados a soldados, de delegados a detetives, passando pelo Estado-Maior da PM e o comando da Secretaria de Segurança. Nessa ‘Rede do Terror’ que conspirava para endurecer o regime não consta o nome de um único guerrilheiro. Todos os terroristas, ali, integravam o aparelho de Estado, patrono da complacente autoanistia que não satisfazia nem seus radicais.
O nome mais ilustre da agenda é Freddie Perdigão, membro de um certo ‘Grupo Secreto’ organização paramilitar de direita que jogava no fechamento político. Perdigão era coronel da Agência Rio do SNI do general Medeiros. Nada mais cínico e nada mais conexo do que isso.
O ‘Grupo Secreto’ é responsável por algumas das 100 bombas que explodiram no Rio e São Paulo entre a anistia de agosto de 1979 e o atentado do Riocentro de abril de 1981, endereçadas a bancas de jornal, publicações alternativas da oposição, Assembleia Legislativa e às sedes da OAB e da ABI.
Apesar da equivocada decisão do Supremo, o Brasil acaba de ser condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA por se eximir da investigação e punição aos agentes do Estado responsáveis pelo desaparecimento forçado de 70 guerrilheiros do Araguaia. “A Lei da Anistia do Brasil é incompatível com a Convenção americana, carece de efeito jurídico…”, criticou a Corte da OEA.
Em novembro passado, o Ministério Público Federal em São Paulo ajuizou ação civil pública pedindo a responsabilização civil de três oficiais das Forças Armadas e um da PM paulista sobre morte ou desaparecimento de seis pessoas e a tortura de outras 20 detidas em 1970 pela Operação Bandeirante (Oban), o berço de dor e sangue do DOI-CODI, a sigla maldita que marcou o regime e assombrou os brasileiros. O capitão reformado do Exército Maurício Lopes Lima é frontalmente acusado pelos 22 dias de suplício a uma das presas, líder da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares). Nome da presa torturada: Dilma Rousseff.
Agora presidente, Dilma Rousseff encara este desafio que intimidou os cinco homens que a antecederam no Palácio do Planalto a partir de 1985, quando acabou a ditadura: a punição aos torturadores do golpe de 1964. Não será por revanchismo, mas pelo dever ético de todo país que respeita a verdade, a memória e sua história. Como fazem com altivez a Argentina, o Uruguai, o Chile ao lavar suas feridas, feias como as nossas.
Quando fui chamado para trabalhar na revista Veja em Porto Alegre, em 1971, o chefe da sucursal era Paulo Totti. Aos 32 anos, era o mais talentoso jornalista do Rio Grande do Sul, a melhor escola que um repórter poderia ter. Em dezembro de 2007, cinco meses antes de completar 70 anos, Totti conquistou o Prêmio Esso de Economia com uma reportagem sobre a China, publicada no diário Valor Econômico. O melhor jornalista gaúcho há 40 anos é ainda hoje um dos grandes repórteres brasileiros. É dele esta frase consoladora:
– A função do repórter é a única que vai sobreviver no jornalismo do futuro. Sempre vamos precisar, no futuro, de alguém que pergunte.
Totti disse e eu completo: o importante – ontem, hoje e sempre – é duvidar e perguntar.
Espero que o título honroso que a UnB hoje me confere seja o reconhecimento não às respostas que obtive, mas às perguntas que fiz ao longo destas últimas quatro décadas.