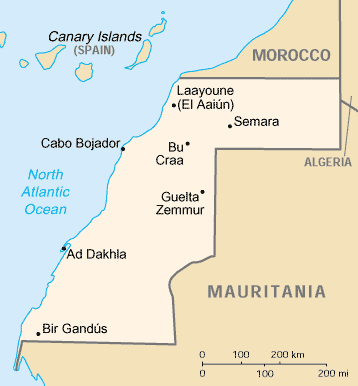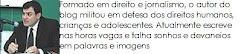Essa matéria não poderia deixar de ser publicada e tem muito a ver com esse dia 31 de março, dia do golpe aqui no Brasil e que teve reflexos em toda a América do Sul e nos posteriores desmandos, como deposição ou assassinato de presidentes, torturas, silêncio imposto a intelectuais e imprensa. Época que não deixa saudade, mas deixou marcas.
Essa matéria não poderia deixar de ser publicada e tem muito a ver com esse dia 31 de março, dia do golpe aqui no Brasil e que teve reflexos em toda a América do Sul e nos posteriores desmandos, como deposição ou assassinato de presidentes, torturas, silêncio imposto a intelectuais e imprensa. Época que não deixa saudade, mas deixou marcas.Esse filho e esse pai, retratados pela câmara de algum fotógrafo da imprensa argentina, são exemplos vivos de que as ditaduras deixaram marcas, presentes e vivas não na imaginação, mas na vida real, no dia-a-dia de muitos brasileiros e também latino-americanos.
À sorte desse jovem de ter descoberto o seu verdadeiro pai e à sorte desse pai de ver o fruto do seu amor com a falecida mãe aparecer sorridente e feliz, posto essa matéria, em homenagem, sim, a esses homens simples e idealistas, que um dia sonharam e agora têm mais motivos para sonhar.
Página 12 (com Redação Carta Maior)
Sequestrada por militares argentinos, Silvia Mónica Quintela deu à luz no cativeiro e acabou assassinada no centro clandestino de detenção Campo de Maio. Seu marido, Abel Pedro Madariaga, conseguiu sobreviver à ditadura militar e, ao voltar do exílio, incorporou-se ao movimento das Avós da Praça de Maio para procurar seu filho. Encontrou-o há poucos dias. O 101° neto encontrado chama-se Francisco Madariaga Quintela. O responsável pela "adoção" da criança sequestrada, o capitão aposentado e ex-carapintada Victor Alejandro Gallo, foi preso sexta-feira.
Sequestrada por militares argentinos, Silvia Mónica Quintela deu à luz no cativeiro e acabou assassinada no centro clandestino de detenção Campo de Maio. Seu marido, Abel Pedro Madariaga, conseguiu sobreviver à ditadura militar e, ao voltar do exílio, incorporou-se ao movimento das Avós da Praça de Maio para procurar seu filho. Encontrou-o há poucos dias. O 101° neto encontrado chama-se Francisco Madariaga Quintela. O responsável pela "adoção" da criança sequestrada, o capitão aposentado e ex-carapintada Victor Alejandro Gallo, foi preso sexta-feira.
A Associação das Avós da Praça de Maio apresentou nesta terça-feira (23) numa coletiva de imprensa, todos os detalhes que permitiram recuperar o neto 101, que durante mais de trinta anos foi privado de sua identidade por seus apropriadores. Francisco Madariaga Quintela é filho de Silvia Mónica Quintela, sequestrada e assassinada no centro clandestino de detenção Campo de Maio. Seu pai, Abel Pedro Madariaga, conseguiu sobreviver e, depois de voltar do exílio, uniu-se à Associação das Avós para iniciar pessoalmente a busca de seu filho, no que constitui um caso inédito neste tipo de investigação. Enquanto isso, o responsável pela "adoção", o capitão aposentado e ex carapintada Victor Alejandro Gallo foi detido na última sexta-feira.
Silvia Quintela foi sequestrada pela ditadura militar na manhã de 17 de janeiro de 1977, em Florida, província de Buenos Aires, quando estava grávida de 4 meses. Às 9 e meia da manhã, enquanto caminhava pela rua Hipólito Yrigoyen em direção à estação de trem para encontrar-se com uma amiga, foi rodeada por três veículos. Um grupo à paisana que pertencia ao Primeiro Corpo do Exército jogou-a-a num dos Ford Falcon e levou-a para um local desconhecido. Silvia era médica e tinha nesse momento 28 anos; dedicava parte de seu tempo à militância na Juventude Peronista e a cuidar de pessoas carentes numa clínica em Beccar, em Buenos Aires. Seu companheiro, Abel Madariaga, secretário de imprensa e difusão da organização Montoneros, foi testemunha, mas conseguiu escapar. Nessa mesma tarde, outro grupo invadiu a casa da mãe de Silvia e lá a comunicaram que ela tinha sido detida.
Exilado primeiro na Suécia, em 1980, e depois no México, Madariaga regressou temporariamente a Argentina em 1983, onde entrevistou vários sobreviventes do centro clandestino de detenção Campo de Mayo. Quando regressou permanentemente, uniu-se às Avós, ocupando o cargo de secretário, para encabeçar pessoalmente a busca pelo local de detenção de sua companheira.
Testemunhas forneceram informações sobre esse local e sobre a data de nascimento de seu filho, que depois foi "adotado". Beatriz Castiglione, sobrevivente do El Campito e companheira de detenção de Silvia, junto a outras grávidas, ratificou que a viu presa no Campo de Maio e lembrou que seu pseudônimo no centro clandestino era “Maria”. Então ela já estava no seu sétimo mês de gestação.
Outro testemunho chave foi o de Juan Carlos Scapati, com quem Quintela esteve detida. Na sua declaração, Scarpati afirmou que foi atendido pela médica numa lugar chamado Las Casitas – dentro do CCD Campo de Maio -, em virtude das feridas que lhe haviam causado quando o detiveram. O mesmo testemunho assegurou que Quintela deu à luz fora da sala de partos do El Campito, quando os partos começaram a se realizar com cesárias programadas no Hospital Militar do Campo de Maio. “Pude ficar algumas horas com ele”, comentou Silvia, ao reincorporar-se no dia seguinte, já sem seu bebê e com a promessa de seus raptores de entregá-lo a sua família.
O capitão do exército aposentado e ex-carapintada Victor Alejandro Gallo foi preso na sexta-feira passada, quando tomava conhecimento do resultado dos exames de DNA. Gallo é acusado agora de apropriação ilegal de um menor de idade; ele também tinha sido condenado a dez anos de prisão, em 1997, pela Câmara Penal de San Martin. Neste caso, foi julgado culpado dos delitos de roubo qualificado, porte de arma de guerra, privação ilegal da liberdade e coação, junto a outras duas pessoas que a Justiça condenou pelo chamado Massacre de Benavidez, ocorrido em 6 de setembro de 1994.
A coletiva de imprensa em que pai e filho se apresentaram juntos pela primeira vez ocorreu nesta terça. As Avós revelaram de que modo conseguiram recuperar a identidade do neto número 101, e a rede de cumplicidades que permitiu sua apropriação.
Leia abaixo o informe das Avós sobre o encontro de Francisco:
“Buenos Aires, 23 de fevereiro de 2010
Encontramos outro neto, o filho do Secretário das Avós da Praça de Maio
As Avós da Praça de Maio queremos comunicar que encontramos outro neto que durante mais de 32 ano viveu privado de sua identidade. Francisco Madariaga Quintela é filho de Silvia Mónica Quintela e Abel Pedro Madariaga, ambos militantes da organização Montoneros. Silvia foi sequestrada em 17 de janeiro de 1977 em Florida, Província de Buenos Aires, grávida de quatro meses. Seu companheiro Abel sobreviveu e partiu para o exílio. Em 1983, de volta a Argentina, empreendeu pessoalmente a busca de seu filho e se incorporou à Associação.
Silvia nasceu em 27 de novembro de 1948, na localidade de Punta Chica, comarca de San Fernando. Estudou medicina na Universidade de Buenos Aires (UBA) e, no momento de seu sequestro, estava terminando sua residência como cirurgiã no Hospital Municipal de Tigre. Foi detida em Florida, zona norte da Grande Buenos Aires, na interseção das ruas Hipólito Yrigoyen e as vias do Ferrocarril Mitre. Militava na Montoneros. Seus companheiros a conheciam como “Maria”.
Segundo testemunhos de sobreviventes, Silvia permaneceu no Centro Clandestino de Detenção “El Campito”, no Campo de Maio, e em julho de 1977 passou por uma cesária no Hospital Militar da dita guarnição. Silvia, de 28 anos, deu a luz a um menino, a quem – como desejava com seu companheiro – chamou de Francisco.
O caso de Silvia Quintela se soma aos de Norma Tato de Casariego e Beatriz Recchia de Garcia, desaparecidas grávidas do CCD “El Campito”, que também deram a luz no Hospital Militar e cujos filhos foram apropriados por repressores. Felizmente, os três casos foram resolvidos pelas Avós e a Justiça determinou a restituição da identidade dos jovens.
Abel nasceu em 7 de fevereiro de 1951, na cidade de Panamá, província de Entre Rios. Cursou agronomia na UBA até que foi expulso, com a intervenção do exército na Universidade. E, assim como Silvia, militava na coluna norte de Montoneros. Pouco depois do sequestro de sua companheira, exilou-se na Suécia, mais tarde no México, até que regressou ao país, em 1983. Desde então, integrou-se às Avós e com os anos se tornou coordenador das equipes técnicas, sendo atualmente secretário da instituição.
A busca familiar
As avós Sara Elena de Madariaga e Ernestina “Tina” Dallasta de Quintela se dedicaram à busca de Francisco durante a ditadura. As avós, junto a suas companheiras, escreveram e se aproximaram do Ministério Público o quanto puderam, mas, como em todos os casos, lhes fecharam as portas. Em 1983, de volta do exílio, Abel empreendeu a busca pessoalmente, então se incorporou ativamente às avós e foi encarregado de desenvolver grande parte das estratégicas de difusão das Avós para convocar os jovens que, como seu filho, tivessem dúvidas sobre sua identidade.
A Busca de Francisco
Francisco se aproximou das avós em 3 de fevereiro último, com o nome de Alejandro Ramiro Gallo, dizendo que acreditava ser filho de desaparecidos. Desde há muito tempo tinha dúvidas sobre sua identidade, e por isso decidiu perguntar à mulher que dizia ser “sua mãe” se tinha informações sobre sua origem. Foi então que a senhora Inés Susana Colombo confessou que o tinham trazido do Campo de Maio e que havia a possibilidade de ele ser filho de desaparecidos.
Com essa informação, Francisco decidiu aproximar-se das Avós para começar a sua busca. O jovem se apresentou acompanhado por Colombo, que disse que seu ex-marido, chamado Victor Alejandro Gallo, era oficial da inteligência do Exército argentino e que, no ano de 1977, lhe disse que havia um bebê abandonado no Hospital Militar do Campo de Maio, ao que ela teria respondido: “como ia deixar um bebê abandonado, que o tragam “(sic).
Colombo relatou que finalmente Gallo levou o bebê para a sua casa em 10 de julho de 1977, e acrescentou que o bebê ainda tinha o cordão umbilical, o que indicava que tinha nascido havia muito poucos dias.
Tanto Francisco como Colombo indicaram que Victor Gallo dispensava um trato violento a ambos, relatando minuciosamente diversas agressões físicas e psicológicas. Gallo, que trabalhava como oficial do exército durante a última ditadura, também conta na sua história ter sido membro do batalhão 601. Já na democracia participou do roubo de uma empresa financeira, na década de 80, e de um ato criminoso, no qual assassinou a uma família, que ficou conhecido como “O Massacre de Benavidez”, pelos quais foi condenado e esteve preso. A ficha corrida desse homem traz também sua participação nos “levantes carapintadas” ocorridos nos anos 80, entre outras coisas. Atualmente, até a sua detenção na última sexta-feira, trabalhava como empresário de uma empresa de segurança privada, sendo “dono” da empresa Lince Seguridad”.
Na entrevista, Colombo assinalou que, apesar de estar divorciada e de não guardar vínculo com Gallo, antes de ir às Avós da Praça de Maio ela o chamou para que lhe dizer que “Ramiro” estava duvidando de sua identidade. Casualmente, depois disso Francisco sofreu dois incidentes que vinculou às circunstâncias de que Gallo tinha se inteirado da busca iniciada.
O relato de Francisco e de Colombo fazia com que se suspeitasse de que se tratava de um filho de desaparecidos, pelo que, de imediato solicitaram à Comissão Nacional pelo Direito à Identidade (CONADI) que lhes concedessem uma agenda para a realização do exame de DNA. No dia seguinte, 4 de fevereiro, Francisco foi ao Banco Nacional de Dados Genéticos para deixar as primeiras mostras que lhe devolveram sua verdadeira identidade.
O Encontro
Na quarta-feira, 17 de fevereiro, a juíza Sandra Arroyo, do Juizado Federal N° 1 de San Isidro, chamou a Associação para que comunicasse ao secretário da instituição que tinham encontrado seu filho. Abel não se encontrava na capital, de modo que fomos atrás dele para contar-lhe; neste mesmo dia companheiros e pessoas queridas o esperavam na sede das Avós para abraçá-lo e acompanhá-lo neste momento que ele esperou por mais de 30 anos. Enquanto isso, Francisco se encontrava com integrantes das Avós, com quem desde que se aproximou da organização esteve em contato, para contê-lo e acompanhá-lo. Nesse momento, comunicaram-lhes o resultado e Francisco quis conhecer seu pai nas Avós.
Desde então, pai e ilho não deixam de estar juntos, compensando os anos roubados de vida e emocionando a todos os que participaram dessa luta. “Não podiam”, disse Francisco quando abraçou seu pai pela primeira vez. Esse é o ensinamento que nos traz cada restituição e nos enche de energia e esperanças para encontrar a todos os que faltam”.
Tradução: Katarina Peixoto